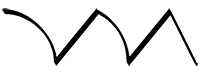por SARA BARROS LEITÃO
“Amor com amor se paga
ou como pagar com a escrita uma experiência de amor”
Escrevo com dois meses de atraso. Talvez mais.
Há sete segundas feiras que me proponho a escrever a recepção do espectáculo “Devemos sempre perdoar os cobardes, mas nunca ser como eles”. E, de cada semana que passa sem que tenha conseguido encontrar o lugar da escrita, ou o espaço na cabeça, imagino-me do lado dos cobardes, pensando se serei perdoada por não estar a conseguir.
Percorri sete semanas em silêncio como se percorrem estes sete manifestos ruidosos. É que o silêncio e o ruído também se podem encontrar na luta por uma mesma coisa.
Encontrei o espectáculo de Tiago Vieira numa rua em Amsterdão, dois dias depois do seu fim. Se é que se pode encontrar espectáculos perdidos no chão, como se encontram isqueiros, ou se é que os espectáculos chegam alguma vez a ter um fim, mesmo depois de acabarem.
Aterrei naquela cidade a 28 de janeiro de 2020. Tinha planeado escrever este texto entrecortando as nuvens. Pensei que algures no céu, naquele não-lugar, não-fronteira, não-país, a 35 mil pés de altitude, iria encontrar a distância suficiente à intensidade reclamada pelo espectáculo. Durante o vôo escrevi apenas uma lista, como quem desenha um quadro impressionista de uma paisagem que já não vê, ou como quem enumera pontos de um manifesto, do que me lembrava de ter vivido naquela noite:
Começou antes de começar.
Há quanto tempo?
Alguma vez começou?
Qual é a paisagem do rosto morto do irmão?
Primeiro rosto: a reinvindicação da identidade dos esquecidos.
Quanto tempo é necessário até descobrirmos o nome dos mortos?
Depois do silêncio, uma inevitável fúria dos deuses.
Repetição.
Sobreposição.
Explosão.
Vozes.
Ruído.
Explosão, já disse?
E as ruínas são lugares de culpa ou lugares de fantasmas?
O vôo terminou antes de eu ter começado realmente a escrita. Ficaram estas notas. Descobri as ruas de Amesterdão como “ruínas de lugares de culpa”. Era a manhã seguinte às comemorações do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. As flores frágeis, que aguentaram estoicamente projectadas na parede do Polo das Gaivotas, assistindo a todo o frenesim que se construía em cena, eram agora reais, assumiam o seu cansaço, e murchavam em grandes aglomerados, junto a casas e monumentos.
Serão as flores assim tão redentoras, pergunto-me. Enquanto me vêm, como flashes, os figurinos de fardas militares que se transformam em estampados floridos, e que depois se metamorfoseiam em dezenas de possibilidades. O que podem as flores numa guerra? Como se pega numa flor usando uma luva de boxe? Será que os mortos sentem o seu cheiro?
Durante esta caminhada, descobri o sentido da palavra “memorial”. Inscrevem-se no nome das ruas os nomes de grandes batalhas, damos às praças de toda a europa nomes de generais, eu própria moro numa avenida com nome de um bárbaro colonizador. E de cada vez que me refiro à minha morada, perpétuo os nomes branqueados pela a história branca.
As ruas são o espaço público, a escolha dos seus nomes uma opção política de inscrição na história da humanidade.
Por isso é que, quando desviava o olhar de uma placa toponímia num cruzamento em Amesterdão, e olhei para o mapa que trazia na mão, para tentar perceber onde me encontrava, encontrei, no chão, o espectáculo do Tiago Vieira.
Os espectáculos podem ter muitas formas. Às vezes têm forma de memória, às vezes têm forma de postal, outras, de manifesto, muitas vezes têm forma de performance, e, é raro, mas também acontece, há dias em que têm forma de placa de metal fundida no chão de um passeio.
Foi nesta última forma que encontrei este espectáculo. A forma é tão rara quanto o espectáculo. Lembro-me de ter perguntado a um amigo se o tinha ido ver, e qual foi a sua primeira impressão. Ele respondeu: “é um espectáculo que só podia ser feito pelo Tiago.” Esta frase cravou-se em mim como o maior elogio que alguém pode fazer a uma obra: tão única, tão rara, tão tua, que mais ninguém a poderia ter criado.
Comecei a caminhar, sempre olhos postos no chão, e por todo o lado via placas de metal à porta de algumas casas, no meio dos passeios, com nomes completos, seguidos de uma data, que terminava sempre em 43, 44, 45…
“Quanto tempo é necessário para descobrir o nome dos mortos?”, ouve-se de um microfone distorcido. Olhei para cima para tentar localizar a origem da voz. Talvez tenha sido a minha memória, a minha cabeça… Uma confusão entre um espectáculo que tinha terminado, e o mesmo espectáculo que estava ali, debaixo dos meus pés.
Durante a minha estadia naquela cidade, o espectáculo “Devemos sempre perdoar os cobardes, mas nunca ser como eles”, perseguiu-me para todo o lado. Encontrei-o nos memoriais, nas listas de nomes de pessoas mortas que apareciam quando menos esperavas, para ter a certeza de que ninguém se esquecia deles, nas pétalas murchas, nos vestígios de cartazes, enrugados pela chuva, que anunciavam a comemoração do 75º aniversário desde a libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau.
Tenho trazido o espectáculo no bolso desde que o encontrei no meio do chão. Não são raras as vezes em que, ao procurar uma moedas, me perco a pensar sobre ele.
Escrever sobre a experiência de assistir a “Devemos sempre perdoar os cobardes, mas nunca ser como eles”, é uma tarefa árdua e penso que resultará sempre num registo redutor. É o exemplo da sintonia entre o acto performativo, o corpo no presente, o aqui e agora, com um trabalho de escrita profundo e visceral. Nenhum se sobrepõe ao outro. Não há particular cuidado para que entendas as palavras, porque as palavras também são acção, também são corpo, também são suor. As palavras, tantas vezes ensurdecedoras, outras incompreensíveis, são a sua mistura no grito, na repetição e no cansaço. As imagens não te deixam o espaço para a contemplação, porque de tanto contemplar, Penélope apodreceu na espera.
Se fizéssemos um minuto de silêncio por cada vítima Holocausto, duraria três anos. Mas como ficar em silêncio se aquilo que nos querem é calados? Só reivindicamos a identidade dos esquecidos se não deixarmos o seu nome no silêncio. Se gritássemos durante um minuto por cada vítima do Holocausto, não nos calaríamos para o resto da vida.
2 de abril de 2020