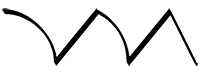por DIANA NIEPCE “Alguém que cai e os Robalos”
Há sempre uma pessoa que cai. Alguém que está sempre a cair. Normalmente essa pessoa sou eu, a pessoa que diz algo que poucos têm o sarcasmo para compreender ou pior, para se rir.
Estou no Uber e já estou a pensar como vou fazer para chegar às Gaivotas 6; a última vez que lá fui, o carro parou na rua inclinada e quando me levantei, os meus pés começaram a patinar, sentei-me na cadeira e o meu corpo escorrega. O programador Pedro Barreiro e a Tânia Guerreiro, produtora da PI, empurravam-me até à entrada, os carros buzinavam, e quando ultrapassámos os degraus da entrada, o homem do carro de trás gritou: “A culpa é do Uber.”
O Pedro ficou de me ir buscar lá fora para eu conseguir aceder; sim, o Pedro, o programador português que empurra a minha cadeira de rodas para me obrigar a ir ao seu espaço e que tem o desejo de criar acessos ao espaço mais inacessível de Lisboa, em que a única possibilidade de o tornar realmente acessível seria mandar para lá uma bomba e construir tudo de raiz. Escrever sobre as Gaivotas e ignorar o Pedro seria como soltarem a minha cadeira de rodas no cimo da Rua das Gaivotas e me deixarem estatelada no chão ao fundo da rua.
Vou beber café com o Jonny Kadaver para adiar a missão de chegar às Gaivotas.
Este bairro já não é o meu bairro. Os humildes cafés esqueceram a humildade. As pessoas que encontramos na rua já não são os residentes velhinhos, que me diziam “Bom dia” quando eu saia de casa e quando estava constipada, iam a casa fazer um remédio caseiro para a menina. Não consigo ignorar as memórias que tenho aqui, mesmo quando a Diana desse tempo, já não é esta Diana.
Na entrada fumo um cigarro. Escuto “Olá Diana.” Respondo um grunho sem querer saber de quem é a voz. A lua está tão grande que se confunde com os candeeiros da rua. A dor de cabeça é insuportável. A voz era o Alípio, o meu vizinho dos meus tempos de acrobata que me sorria um Olá que eu ignorei. Alípio olha para mim e cora.
Mafalda espeta-me purpurinas na tromba. Eu disse à Mafalda que só uso purpurinas em espetáculos, mas claro, esta figura com um body suit dos anos 90, uma camisa preta com um nó amarrado à barriga e umas calças com uns quantos desenhos, que me tira da monotonia do meu minimalista dresscode, ignora-me e grita no meio da sua gargalhada estridente, “Purpurinas é na vida.”
Robalo abre as portas. Robala traz uma bandeira preta espetada numa vara comprida. Mafalda abraça um desconhecido que lhe cheira o pescoço. As pessoas começam a entrar e eu já estou farta de pessoas. Uma escultura em forma de pirâmide de lava escura assinala “Pedra das contribuições”. Pedro abraça-me, carrega-me escada acima, como se passeássemos junto dos vasos de plantas a pairar. Mafalda carrega a cadeira e logo depois Pedro senta-me.
Um andaime ocupa o espaço como se dissesse “em construção.” Estamos todos em construção, mas no meio das luzes cor-de-rosa, a construção parece aquele sonho perdido que dança no meio dos sorrisos tímidos num copo de vinho. Pedro empurra-me e grita aos ouvidos dos outros. “Deixa passar.” Sobe-me pelos degraus numa perícia de quem brinca às cadeiras de rodas.
Entramos no quarto branco, será uma sala? Será um iglo? Será um cogumelo? Lembro-me do meu sonho, no meio de lençóis brancos que aconchegam o meu corpo ao nevoeiro. Será que estamos mesmo em construção? O que é que estamos a construir? Será que alguma vez chegamos a um fim? Painéis de cartão branco cobrem o quarto, dois escadotes em madeira em lados opostos, alinham-se num namoro à distância com uma coluna a separá-los, como numa carta de amor. É como um mapa que não leva a lado nenhum, que não me leva a lado nenhum. Neste ruído de um loop que me leva numa viagem para o fundo do poço, que coloca o meu corpo num estado de inércia e quietude. Robalo caminha, sobe a um escadote, tira uma trincha do bolso e martela a parede branca com uma tinta verde.
André Teodósio entra com umas calças azuis da adidas, um sobretudo escuro que lhe abraça a cintura, assim como ele me abraça ao me ver. Três colares dourados deslizam do seu peito na minha direção, um é uma estrela de seis pontas, outro uma chave e um pénis. Ao meu lado esquerdo senta-se de cócoras, Telma João Santos do meu lado direito senta-se de joelhos e neste triângulo de desabafo de estados que nos coloca nos “entre”, como se a lua cheia lá fora nos anestesiasse numa melodia doente que não nos deixa chegar a lado nenhum.
No meio do fumo vejo uma porta, ali as pessoas fumam, parece-me um caminho para uma espiral a outro pequeno fim do mundo. Passa muito tempo até que eu decido sair da sala. João Leitão empurra a minha cadeira pelos degraus. Não tenho medo de cair, não sei se são os olhos azuis que me fazem confiar.
Outra vez na confusão, com o vinho na mão, aproximo-me do andaime, dou o copo a Alípio, apoio a mão no andaime e levanto-me. Alípio abraça-me. Parece que viu um milagre. Daniela a produtora, passa por mim e quando se apercebe que sou eu a pessoa que está em pé pára. Chocada sorri, sorri muito. Se uma música surgisse ao fundo seria uma música de Satie, a anunciar aquele momento que me situa entre o divino e a nostalgia. Silvana olha para mim, acho que vai chorar. Afinal quem está a fazer a performance sou eu. Teodósio aproxima-se de nós, junta o seu corpo ao andaime, muito próximo do meu apoio de mão. Nesta dança de micro-movimentos que me faz aguentar de pé, transfiro o peso ligeiramente de uma perna para a outra, flito ligeiramente um joelho e com pequenos balanços, acordo o sangue para o meu corpo dizer “está tudo bem.” Teodósio diz, “Estás de pé, só eu passo a minha vida encostado ou embrulhado a um canto qualquer.” Digo, “Queres a minha cadeira? Eu tenho dor.” Alípio diz, “Mas eu não sabia que estavas assim.” Teodósio diz, “Mas eu nunca te vi nua.” Digo, “Não seja por isso.” Levanto ligeiramente o vestido de lantejoulas azuis por baixo do casaco.
No meio do fumo, Pan.Demi.CK com uma máscara, carapuço e uma mesa desenha uma paisagem sonora no escuro. Há um ritmo que embala, um ruído, uma voz que ao fundo nos balanços do seu corpo, contaminam o meu corpo em micro-movimentos que se propagam nas cabeças dos outros que sentados no chão observam. Não estou no ventre, mas diria que neste quarto escuro, estou muito próxima do outro, muito próxima de cair outra vez. Não reconheço o outro. Aqui somos todos manchas. Presos neste fumo. Como se encontrasse o outro neste ritual indígena, o corpo quieto, na nuvem de fantasmas próximos, tão próximos que o fazem o corpo cair mais uma vez. Saio.
Há sempre alguém que cai. Cada vez que me levanto e fico em equilíbrio de pé, lembro-me dos muitos “tralhos” que dei e apesar do meu controle muscular estar mais forte, tenho sempre a sensação que vou ter um espasmo, cair lentamente, bater com a cabeça numa esquina, ter um traumatismo craniano, passar meses no hospital e simplesmente sobreviver para contar a história. Hoje não sou eu que caio. Um desconhecido, que afinal é um adorado do Pedro, desce as escadas, tropeça nos próprios pés e cai. O desconhecido desequilibra-se novamente e manda um mergulho de frente em direção à caixa de eletricidade das Gaivotas. Quando graciosamente a frente de sala expulsa toda a gente do espaço, o desconhecido desce os degraus da entrada no meio do seu desequilíbrio Bukowskiano. Sim, hoje não caí, mas não caí porque o Pedro empurra a minha cadeira no meio dos paralelos que desenham a descida, como um pântano de muitos possíveis tralhos da Diana, que hoje teve a sorte de não cair.